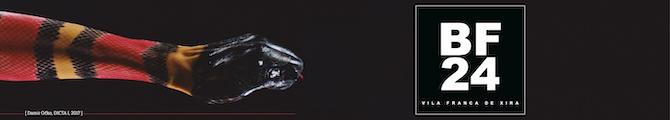|
|
DANIEL V. MELIM _ PARTE I
29/05/2021
[Esta é a primeira parte da entrevista com Daniel V. Melim, a segunda parte pode ser acedida aqui]
PARTE I _ As imagens querem-se fortes mas referindo sempre a precariedade da sua construção
Daniel V. Melim estudou Pintura na Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa e Applied Anthropology and Community and Youth Work no Goldsmiths College - University of London, curso em que foi bolseiro da Fundação Calouste Gulbenkian. Aparte da formação académica, Daniel V. Melim frequentou variadas formações em áreas tão diversas como meditação, yoga, butoh, contacto-improvisação, composição em tempo real (performance), teatro de improviso, trabalho com voz, método Louise Hay e design de eco-aldeias. Por isso é natural que na sua biografia afirme que o seu interesse está nas “dimensões afectivas, históricas, colectivas, ecológicas, espirituais e curativas da criação.”
Foi finalista do Prémio EDP Novos Artistas 2007, vencedor do Prémio Fidelidade Mundial Jovens Pintores em 2011 e shortlister do projecto mundial 100 Painters of Tomorrow (Thames & Hudson, 2014).
A conversa com Sérgio Parreira publica-se em duas partes. Na primeira que se apresenta aqui, Daniel V. Melim aborda o seu processo de criação de imagens e introduz-nos a sua produção artística na área da performance e música.
Por Sérgio Parreira
>>>
Sérgio Parreira (SP): Estava a tentar entender por onde começar, isto porque não considero de forma alguma a tua criação artística linear. Este não-linear não tem um sentido pejorativo, muito pelo contrário, mas um sentido multidisciplinar / pluri-plástico. Podes comentar esta minha leitura da tua "orientação"/direção criativa?
Daniel V. Melim (DVM): Crio com várias formas, mas o foco é o mesmo: calor, mistério. Aquilo que uma imagem traz disso, um som ou uma palavra não trazem, e vice-versa. Aquilo que uma obra criativa faz sozinha independentemente de mim, o trabalho individual com as pessoas não faz, e vice-versa. Apercebi-me de que o arco da minha trajetória parecia disperso simplesmente porque o abraço era a muitas coisas, muitas formas: comunidade, espírito, imagens, sons, movimento, palavra, entre outras. Por exemplo, estudei Pintura na FBAUL, e oito anos mais tarde fiz um MA na Goldsmiths que era em dois departamentos ao mesmo tempo: o de Antropologia, e o de Social, Therapeutic and Community Studies. De há uns tempos para cá, a coisa aterrou. Há três formas primordiais: imagens (pintura/desenho), performance e música (cujas bases teóricas ainda estou a estudar) e trabalho com pessoas (mentoria criativa e terapias criativas: no primeiro caso, o foco está em ajudar pessoas que gostam de transcender os seus bloqueios criativos; no segundo caso, as terapias, trata-se de usar práticas criativas hands-on para ajudar pessoas a trazerem novas perspetivas a zonas desafiantes das suas vidas)
SP: Estava a ler a tua biografia, que refere nasci em Portugal. Posso saber onde? E onde cresceste?
DVM: Nasci em Coimbra, porque a minha família por motivos profissionais estava temporariamente um ano lá, mas toda a minha família de origem é do Funchal, e foi lá que cresci e estive até aos 18. Depois vim para a FBAUL estudar Pintura.
SP: Se concordares, sugiro explorarmos nesta conversa as três “formas primordiais” que diferenciaste, imagens, performance e música, e trabalho com pessoas, e talvez posteriormente entender como estas se cruzam. Começando pelas imagens, fala-me da tua pintura em madeira / “mobiliário” / objetos / que eu pessoalmente acho fascinante e muito enigmática, potencialmente contraditória (daí fascinante) quando a base é visivelmente já “antiga”, seja um móvel completo ou apenas parte dele. Porque acrescentar uma intervenção a um objeto por si já intervencionado e antigo, e não começar num suporte “virgem” / intocado?
DVM: Às vezes começo por um bocado de madeira que encontro num antiquário, ou nos escolhos de restauro de uma capela. Às vezes também começo com uma madeira nova que compro na serração, não tem de ser antiga. Não é por ser um "móvel", pois a maioria dessas vezes em que uso madeira antiga é só um fragmento de uma peça que já foi, é por ser de madeira e ter uma história. Muitas vezes é mesmo o quebrado ou inacabado que dão vontade de pintar. Isto começou tudo porque há um par de anos uma amiga minha restauradora de Arte Jelka Baras me arranjou um painel de madeira do Séc. XVII que estava por detrás de uma tela numa capela de Nossa Senhora dos Anjos na ilha da Madeira. Iam deitar o painel fora, mas ela guardou, sem saber bem para quê. Restaurámos o caruncho e acabei por usar o dito para a minha primeira pintura a óleo (desde a FBAUL que não pintava a óleo, e na verdade sinto que ainda estou a aprender os seus fundamentos). Deixei também um bocado da superfície do painel à vista, sem tinta, porque tem uma textura incrível. A imagem (chamada "meditação: a mulher de madeira", adquirida pelo MUDAS) mostra uma pequena figura feminina de costas a olhar para uma orquídea enorme, que de algum modo evoca a tal Senhora dos Anjos atrás da qual aquele bocado de madeira esteve desde 1600 e tal. A figura feminina (tal como no caso de uma imagem que tive na minha individual na Monitor em Lisboa, por quem comecei a ser representado recentemente) vem de um presépio feito no Séc. XIX pelo bisavô analfabeto de Herberto Hélder. Boa parte das coisas que faço lida diretamente com um lastro antigo ou da terra, então lido com as tradições e forças vivas de cá. Mas não me interessa nada essa coisa de "sou Madeirense" ou "sou Português". Por acaso acontece que estou aqui, e, portanto, lido com o lastro do que é viver nesta circunstância (ser deste sítio que tem estas memórias tão fortes e contraditórias, mas estar aqui e hoje com tudo o que isso implica), e abro-me a isso, mas se fosse de Acapulco ou das Ilhas de Svalbard era a mesma coisa. Tem a ver com lidar com as forças presentes. A madeira tem essa memória, esses veios, esses nós, e a matéria do óleo sobre ela parece prestar-se bem ao que ando a tentar fazer, ao espaço imagético que ando a criar. Curiosamente, o lugar onde cresci também se chama Madeira. Estas coincidências linguísticas...As palavras são muito importantes. Não é à toa que comecei nos últimos anos a estudar e a criar música, porque escrevo (sobretudo o que se pode chamar de "prosa poética") há muitos anos e quis começar a assumir essas palavras que escrevo inteiramente, dar-lhes um corpo e uma expressão pública, aos poucos. Nunca quis publicar, nunca me interessou a vida de escritor, mas já a vivência musical interessa-me cada vez mais. E que esteja bem juntinho à pintura. As imagens têm um som, elas próprias emanam uma vibração. Fiz a performance de abertura da Bienal de Coimbra já nesse sentido: cantando as pinturas que lá tinha, misturando canto e música eletrónica. Um dos critérios de aferição de se uma pintura está acabada é o som que ela faz. Não é muito fácil de explicar, mas é bem prático. Os elementos da imagem (subidas, descidas, formas, símbolos, pinceladas, vazios, etc.) emitem todos um ruído. Se algum me irritar muito, tem de ser mudado até não me irritar o som dele. Se não conseguir que deixe de me irritar, não se expõe. A madeira, como suporte, parece que já tem o abraço de base que torna o som que a pintura vai fazer arredondado. Eu gosto de coisas arredondadas, podem ter retas, mas as extremidades quase sempre vão ser arredondadas. A madeira dá um som de base redondo à imagem.
SP: Descreve-me um pouco o teu universo imagético.
DVM: É nesse mesmo sentido em que misturo canto de raiz antiga (ou da terra), com música de caráter autoral/experimental/electrónica. Sinto que faço a mesma coisa com as imagens, com as pinturas e desenhos. A diferença é que imagens faço há 15 anos, pelo que a minha confiança e lastro técnico são muito mais sólidos. Mas é a mesma coisa. Eu podia falar durante dias sobre o tal do "meu imaginário", sabes? mas no final as coisas têm de funcionar por si, porque ou há uma transmissão direta de algo relevante desde a própria peça às pessoas ou nada do que diga acerca das minhas obras pode servir de fita-cola conceptual para tentar aguentar o que não se sustém em silêncio. Mas sim, tem a ver com movimentos viscerais de presenças antigas, por exemplo figuras de carnaval de locais pobres (sem o olhar fetichista de quem vê de fora, é mais porque eu cresci nesses locais), tem a ver com plantas, com roupa amontoada, com a banalidade desta existência fantástica de estar vivo. As imagens querem-se fortes mas referindo sempre a precariedade da sua construção: sejam as peças só de tinta sem suporte (pintadas em vidro e depois arrancadas e expostas como camada autónoma e visivelmente irregular), sejam estas peças a óleo em madeira de estabilidade aparentemente duvidosa, é muito importante que o impacto solar das imagens (cuja composição tento até à exaustão que contenha apenas o essencial) não deixe criar uma aura de impecabilidade. É nesse sentido que falo de quando abordas música antiga com uma visão eletrónica, porque quando faço uma imagem que evoca algo antigo ou da terra, tento que haja um ruído qualquer, uma perturbação, um erro, uma marca de humanidade autoral e parcial, para não se entrar no transe nostálgico-folclórico-tradicional. Por outro lado, apesar de dizer que quero apenas o essencial em cada composição, detesto coisas impecáveis, frias, inatingíveis ou supostamente "cool". O calor (térmico e afetuoso) é muito importante para mim, daí a luz nos meus trabalhos ser sempre ou do sol direto ou de candeeiros quentes. Quando estive a estudar na Goldsmiths a estudar Antropologia e Trabalho Social, foi das coisas que mais me custou, o frio térmico e humano de Londres. Sou um gajo do Sul. É uma questão espiritual e fisiológica, não é qualquer retórica pan-regionalista ou do pobrezinho do Sul da Europa, mas eu sou mesmo de cá de baixo. Mas é um cá de baixo que, no entanto, é do Hemisfério Norte, desta espécie de "Suécia do Magreb" onde vivemos. Já não me lembro quem se referiu a Portugal nestes termos, mas acho a acidez absurda da expressão maravilhosa, até porque aponta sem qualquer pompa nacionalista para esta dimensão entre-mundos do território que habitamos, este trapo roto de Império Colonialista (Sul do Norte e Norte do Sul) que foi mas cujos buracos podem deixar aparecer criações bem vivas hoje. Ouves isso nos discos épicos do Fausto, e no sarcasmo genial dos Gaiteiros de Lisboa, mas também por exemplo nas explorações dos Buraka e de tantos outros. Portanto, por vezes incluo imagens de outros lugares da Terra, porque por exemplo há rituais antigos Portugueses (com enormes consequências sociais, plásticas, musicais) que estão muito mais vivos no Brasil do que em Portugal, como as Cirandas e o culto do Espírito Santo. Daí que já tenha feito duas individuais por lá no Brasil, e uma residência de 4 meses. Uma grande cantora de raiz tradicional/autoral de lá, agora minha amiga, a Renata Rosa, usou as minhas pinturas para a edição Brasileira e Francesa do seu último disco. Estas coisas tocam-me muito. Em geral, sinto-me muito mais motivado a ir a um antiquário, ou participar num círculo de canções indígenas, do que ir a uma galeria de Arte. Claro que estou a falar em geral... A título de exemplo (porque há tantos autores que me tocam), com uma exposição da Paula Rego, do Francis Alys, do João Jacinto ou do Morandi a história é outra. Há uma dimensão de espírito exigente e cheio de amor nas coisas que me tocam, não é por ser Arte ou não que as coisas me tocam, tem a ver com o lugar humano de onde vêm.
Escuto imensa música enquanto pinto. Por exemplo, sou um recolector obsessivo de gravações etnomusicológicas antigas, quer desde o Ernesto Veiga de Oliveira em Portugal até à Missão de Pesquisas Folclóricas do Mário de Andrade, dos anos 30 do Séc. XX no Nordeste Brasileiro. Páro imensas vezes para dançar enquanto pinto, porque além de tirar a rigidez do corpo, sei lá se morro antes do fim desta pintura, quero é aproveitar enquanto cá estou. Mas é muito importante que este magma energético do som entre no que faço. O som e as palavras ditas. Há imensa coisa, como a música dos Chancha Vía Circuito (Argentina), dos Danças Ocultas (Portugal), da Bjork, do Thom Yorke, que me influenciam imenso. Lá está, são criadores que estão sempre num eixo entre lidar diretamente com heranças antigas mas dar-lhe um twist autoral total e presente.
Uma outra questão que devia referir, tem a ver com tentar o mais possível pintar com os modelos (pessoas, coisas, plantas) ao vivo, pois emanam assim uma autoridade presencial que quero que as imagens tenham. Vivemos, como a maioria de nós tem noção, num mundo cada vez mais mediado por ecrãs digitais, por lentes, filtros e deep-fakes. Sinceramente, desde que o João Jacinto nas aulas de Desenho me evocou o valor disso na FBAUL, tento o mais possível rezar nessa capela. Sem purismos, pois tenho um arquivo imenso (que cresceu sobretudo nos anos em que não tive estúdio para pintar ao vivo) de imagens do qual gosto imenso. Mas como âncora primordial, é importante, essa coisa do "diretamente" é importante. Mesmo os primeiros dispositivos de pintura que criei, altamente protocolarizados e rígidos, eram uma versão do perspetógrafo renascentista adaptado a uma era em que o vidro e o plástico estão generalizados. Era pintar em vidro com o modelo do outro lado, a partir de um ponto de vista definido, e depois arrancar a tinta acrílica do vidro. A partir da técnica em vidro do Gil Heitor Cortesão, foi sempre tentar uma ligação direta com as coisas/presenças. Podia falar da relevância disso agora em tempos da "pandemia", mas a questão do impacto ou não da criação artística no tempo específico em que vivemos é talvez demasiado ampla para este lugar aqui.
De facto, esta pergunta sobre o meu imaginário é imensa... dá para falar de tanta coisa, mas há algumas que são essenciais.
SP: Podes continuar!
DVM: As cores, convinha falar nas cores porque muitas pessoas dizem que gostam das cores do que faço, que a cor as impacta. Havia até aí uma história de um "azul Melim" contada por uma amiga minha, por conta do uso sistemático de uma espécie fundo azul-Photoshop em muitas pinturas de há alguns anos atrás, e que lhe agradava bastante e dizia ser o meu azul. Na verdade, o azul estava lá para colocar os modelos no exterior, mas não era realista porque na altura eu não podia pintar literalmente no exterior, por isso usava o azul mais básico que conseguia, tipo capa da National Geographic dos anos 70, para nem tentar ser realista, era só mesmo para situar aquelas coisas na rua. Depois, eram vários tipos de azul diferente, porque eu sou péssimo a repetir seja o que for, tem é de funcionar naquela pintura. Depois, começou a irritar-me acharem que eu colocava sempre fundo azul em tudo, porque foi só uma fase em que aquilo era importante. Mas era impactante sim, em primeiro lugar para mim, porque o azul é a nossa experiência primordial de abraço cromático que o espaço nos dá, então as coisas perante ele cantam, as cores cantam. Eu não me preocupo muito com as cores, porque não estou interessado nesta ou naquela cor em particular, mas na dança que elas criam em cada imagem. Ou seja, trabalho quase sempre a partir das três primárias, mais preto e branco, e faço as cores todas a partir daí, com imensas nuances, para não ficar aquela cor estereotipada vinda direta do tubo da fábrica, mas o facto de fazer as cores todas a partir das primárias garante que a mistura nunca fica igual perdendo-se aí aquela sensação de cor estereotipada. Sou o maior nabo de sempre a falar de nomes de cores, não sei quase nada, mas sei as percentagens CMYK a olho de qualquer cor (enfim, com muita tentativa e erro pelo meio) que me ponham à frente, porque é assim que eu penso: quanto de branco, preto, vermelho, azul e amarelo é que preciso para chegar àquela cor. No entanto, o mais importante na cor tem também a ver com o facto de usar sempre as primárias, mas não é nada disto que referi até agora. É que as cores primárias (e as secundárias, terciárias, por adiante, mas de modo menos essencial) transportam arquétipos humanos que me interessa evocar. Em cada cor há um pouco de todas as outras. Quer literalmente (no espectro lumínico do amarelo, por exemplo, há as outras cores todas, simplesmente há mais amarelo), quer na paleta, pois cada cor que faço é sempre misturada com as outras, nunca vai pura. E em cada composição, por mais que uma ou duas delas dominem, é importante haver uma embaixada, por minúscula que seja, dos outros espíritos primordiais: da garra inflamada do vermelho, da jocosidade do laranja, da frescura amarga do verde, do abismo do negro, do embalo espacial do azul, etc., porque nós temos isso todo o tempo dentro de nós em todos os momentos. Isso é que é o mais importante sobre a cor numa imagem minha, é esse festival constante de emoções. O que acaba por ter algumas consequências no tipo de modelos que escolho, desde bandeiras de festa até modelos com roupa abandalhadamente colorida, mas é independente do modelo em concreto que uso numa imagem específica, tem a ver com uma conceção da cor, uma conceção do olhar sobre o mundo, e querer que cada imagem seja um mini-parlamento das emoções humanas. E isso tem de dialogar com o modo como a composição está articulada, os vazios, os cheios, os escuros, os claros, enfim, é todo um mundo. A imagem pode ser muito quieta composicionalmente, mas o uso da cor faz com que ela tenha sempre de falar de um espetro vasto de emoções humanas. Mas regresso aqui ao que disse no início, nada disto vale nada se não transmitir diretamente algo relevante a quem vê. No entanto, cada um é que saberá que conversa tem com a pintura. Apesar de me interessarem cada vez mais o uso de títulos que dão uma intenção específica a cada pintura, naturalmente não é uma experiência unívoca e não procura uma eficácia literal. A imagem e o seu título procuram apontar muito concretamente uma zona de experiência humana, mas cada um que passa pela pintura é que sabe o que faz nessa zona e dessa zona.
:::
Sérgio Parreira
Vive e trabalha entre Nova Iorque e Lisboa. É licenciado em Pintura pela Faculdade de Belas Artes de Lisboa, e mais recentemente completou o Mestrado em Nova Iorque em Estudos de Mercado da Arte. Tem colaborado enquanto curador independente com diversos artistas nos EUA. No decorrer dos últimos 15 anos em Portugal fez a curadoria e assistência de produção de inúmeras exposições de artes visuais (Isaac Julian, Miguel Palma, William Kentridge, Gary Hill, Mariko Mori, Rui Horta Pereira, Antoni Muntadas, Sharon Lockart, Rigo 23, Marcelli Antunez, Vasco Araújo, Pedro Valdez Cardoso, Ana Perez Quiroga, entre muitos outros), e produziu diversos projetos de diferentes espetros artísticos, da dança ao teatro, performance e musica (ZDB, RE.AL, Temps D’Images, Duplacena, FUSO, Vagar, Horta Seca Associação, etc.).