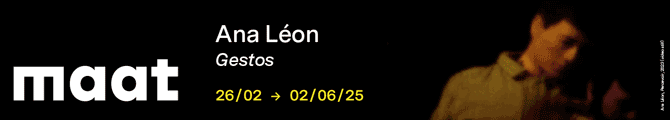|
|
MUSEUS, DESAFIOS E CRISE (I)AUGUSTO M. SEABRA2012-05-16O Dia Internacional dos Museus faz parte dos ritos anuais. No corrente ano, assinala-se a 18 de Maio, sob o tema de “Museus num Mundo em Mudança: novos desafios, novas inspirações”, mote certamente da maior actualidade dada a actual proliferação de novos museus e paradigmas. Ao lema falta contudo explicitar um outro dado, incontornavelmente subjacente: “museus num mundo do capitalismo globalizado, com novos desafios e crises”. Exemplo dramático da crise presente é a situação do Museu de Arte Contemporânea de Casoria (Nápoles), criado em 2004, em que, face à falta de subsídios e apoios públicos, o director, Antonio Manfredi, iniciou recentemente o que chamou de “art war”, com o incêndio público de obras em sinal de protesto. É um cenário terrífico, que evoca a distopia de “Fahrenheit 451” de Ray Bradbury (romance adaptado ao cinema por François Truffaut), descrevendo um regime em que era obrigatório queimar todos os livros, sendo essa a tarefa dos bombeiros. Também em Itália, em Roma, o novo museu de arte contemporânea, o MAXXI, concebido por Zaha Hadid e inaugurado com grande pompa em finais de 2009, teve os subsídios tão dramaticamente reduzidos pela tutela que o conselho de administração, na impossibilidade de assegurar o regular funcionamento, se demitiu e a instituição foi colocada sob a gestão directa do Ministério dos Bens Culturais. Em Espanha, a situação será certamente difícil também para os múltiplos museus de arte contemporânea. Poderá perguntar-se: porque proliferaram assim tantos? Porque tomaram o lugar dos museus de arte moderna que não existiam no país, ouvi eu uma vez a uma responsável do MACBA, o museu de arte contemporânea de Barcelona. Mas também, por certo, pela lógica própria das Autonomias espanholas, cada uma fazendo questão de ter o seu museu ou centro de arte contemporânea próprio, e tanto mais quanto foi precisamente em Espanha, no País Basco, que houve o grande exemplo mediático, simbólico e económico, com o Guggenheim de Bilbau, concebido por Frank Gehry, inaugurado em Outubro de 1997, e paradigma de uma recente situação genérica dos investimentos museológicos, o chamado “efeito Guggenheim”. Foi com base nesse exemplo de Bilbau, que o chefe do governo da Galiza, e dirigente histórica da direita espanhola, Fraga Iribarne (recentemente falecido), quis a construção da Cidade da Cultura em Santiago de Compostela, projecto ganho em 1999 por Peter Eisenman. Em 2001 deu-se início à construção: seriam seis módulos, com um orçamento de 108 milhões de euros. Dez anos mais tarde, já foram gastos 400 milhões, só quatro dos edifícios foram concluídos, e faltam precisamente os dois mais importantes, o Centro internacional de arte e o Centro de música e artes cénicas, que nem se sabe bem como, quando ou até se virão a ser construídos. Estes casos são típicos de uma lógica, da qual infelizmente também não faltam exemplos em Portugal: a de que, se há uma escassez de recursos, também há uma “cultura do desperdício”, com investimentos despropositados, quão não mesmo megalómanos, muitas vezes procedendo-se à construção de equipamentos sem considerar quais serão depois os seus recursos de funcionamento, para efectivamente estarem disponíveis à comunidade. Mas são exemplos que não podem deixar de ser em particular atendidos (também) no caso dos museus, e dos desafios que se lhes colocam, num horizonte de mudanças globais, para mais agudamente afectados por uma situação de crise nesse cenário global. Em 1966, Pierre Boudieu, juntamente com Alain Darbel, publicou um importante e exaustivo estudo, um dos textos básicos de sociologia da arte, L’Amour de l’art – les musées d’art européens et leur public, etapa aliás importante do processo de análise e teorização conducente à sua obra maior, A Distinção – Uma Crítica Social do Julgamento (ou da Faculdade de Juízo, como, com toda a pertinência, é a opção na relativamente recente edição portuguesa, das Edições 70). Entretanto, não só os dados concretos como os próprios paradigmas tiveram consideráveis mutações, sendo contudo fundamental reter a consagração “sacralizada” da instituição museológica que Bourdieu e Darbel apontavam. Constamos hoje dois tropismos de ordem diferente, embora não exactamente opostos. Por um lado há uma “museificação generalizada”, nomeadamente com outra espécie de moderna “sacralização”, a que ocorre com o Património, e em particular com a atribuição pela UNESCO da categoria de “Património Cultural da Humanidade”, o que é um modo de distinção, que de resto não deixa de ser correlativo com o conceito fulcral de Bourdieu. Num texto admirável, Elogio da Profanação, que aliás dá o título à colectânia, Profanações (Livros Cotovia), o filósofo Giorgio Agamben discorre sobre a “museificação do mundo” – “Uma após a outra, progressivamente, as potências espirituais que definiam a vida dos homens – a arte, a religião, a filosofia, a ideia de natureza, a política até – retiraram-se para o Museu. Museu não significa aqui um lugar ou um espaço físico determinado, mas a dimensão separada para a qual se transfere aquilo que, em tempos, era percebido como verdadeiro e decisivo e, agora, já não o é. O Museu pode coincidir, nesse sentido, com uma cidade inteira (Évora, Veneza, declaradas património mundial), com uma região (declarada parque ou oásis natural) e, inclusivamente, com um grupo de indivíduos (enquanto representante de uma forma de vida desaparecida)”. Por outro lado, e no respeitante propriamente a instituições museológicas, ocorre o que Andreas Huyssen, em “Sair da Amnésia: o Museu como Meio de Comunicação de Massas”, definiu como “museumania: “A obsolescência planeada da sociedade de consumo encontrou o seu contraponto numa museumania inexorável. O papel do museu como espaço de conservação elitista, bastidão de tradição e cultura superior, deu lugar ao do museu como meio de comunicação social, como espaço de encenação espectacular e exuberância operática” (texto incluído em Museumania – Museus de Hoje, Modelos de Ontem, volume organizado por Nuno Grande na Colecção de Arte Contemporânea Público Serralves). O Centro Pompidou, de Richard Rogers e Renzo Piano, foi por certo um importante exemplo precursor, mas foi sobretudo o Guggenheim de Bilbau, de Frank Gehry, que condensou esta nova iconologia (termo que, de resto, como se deverá ter presente, tem origens religiosas e sacralizadas). O New Museum, em Nova Iorque, do atelier SANAA, o Chichu de Tadao Ando, a remodelação para a Tate Modern por Herzog & de Meuron, o Centro Paul Klee em Berna de Renzo Piano, o novo Museu Munch em Oslo de Herreros Arquitectos, a Casa das Histórias – Museu Paula Rego de Souto Moura, ou o MAXXI de Zaha Hadid, são exemplos desta nova iconologia, cuja consagração maior será a “cidade-museu”, no sentido de “cidade dos museus”, Saadyat, “A Ilha da Felicidade”, em Abu Dhabi, com as extensões do Louvre e do Guggenheim, respectivamente de Frank Gehry e Jean Nouvel, mais o museu marítimo de Ando e o centro de artes de Hadid. É impossível, a este respeito, não referir uma recente e por vezes virulenta polémica de teoria da arquitectura, mas de uma tal importância que transcende largamente esse específico campo, a que opõe as concepções de Charles Jencks, em The Iconic Building – The Power of Enigma, e de Deyan Sudjic, em The Edifice Complex – How the Rich and Power Shape the World, isto é, e como se deduz dos títulos, entre a exaltação do “poder icónico” e a sua questionação como meio de dominação de um poder simbólico, político e económico. De modo decisivo, o Guggenheim de Bilbau condensou este novo contexto, uma mudança com importantes novos riscos para os museus, como veremos na segunda parte deste texto. Augusto M. Seabra |